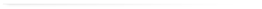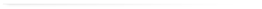Continuo com as minhas memórias do 25 de Abril e tenho algumas razões. Cresci em Cacilhas, margem sul do Tejo, frente a Lisboa. Entre operários dos estaleiros navais do H. Parry & Son, do Ginjal e do Arsenal do Alfeite, e onde a Pide, a polícia política, aparecia com tanta frequência à caça dos descontentes com o regime estadonovista que até os miúdos na rua brincavam aos pides.
Por isso, e embora vivendo há mais de 50 anos nos EUA, ainda vibro com aquelas imagens dos soldados com cravos vermelhos nos canos das espingardas e os civis de flor ao peito a abraçarem-se e a celebrarem a promessa de justiça social e de liberdade.
O golpe que derrubou a mais longeva ditadura europeia (47 anos) ficaria por isso conhecido como Revolução dos Cravos, o que nem todos saberão é como isso aconteceu. Tudo começou com a inauguração do restaurante SIR no dia 25 de abril de 1973 no edifício Franjinhas, sito no gaveto entre a Rua Braancamp e a Rua Castilho, em Lisboa, e que completava um ano no dia em que os militares sairam à rua. Para comemorar o aniversário, as donas do estabelecimento compraram flores para oferecer às clientes, mas devido à revolução decidiram não abrir e deram a cada empregada um molho de cravos vermelhos.
A empregada de mesa Celeste Martins Caeiro levou um ramalhão de cravos, apanhou o metro para o Rossio e, quando subia a Rua do Carmo, deparou com as tropas comandadas por Salgueiro Maia que cercavam o quartel da GNR no Largo do Carmo, onde o primeiro ministro Marcelo Caetano se refugiara e a dada altura um soldado pediu-lhe um cigarro. Mas Celeste não era fumadora e tudo o que tinha para dar eram os cravos que trouxera do restaurante. O soldado aceitou a flor, colocou-a no cano da espingarda e os companheiros seguiram-lhe o exemplo. Celeste distribuiu todos os cravos, que se tornaram símbolo da revolução que acabou com a ditadura em Portugal e que talvez não tivesse ficado mundialmente célebre se Celeste fosse fumadora.
Celeste Martins Caeiro continua a viver em Lisboa, onde nasceu em 1933. Mora numa pequena casa perto da Avenida da Liberdade, vive com uma pensão de 370 euros e completa 91 anos de idade no próximo dia 2 de maio.
Mas o 25 de Abril não foi só uma revolução de revoltosos com flores no cano das espingardas, teve como senha duas belas canções – ‘Grândola, Vila Morena’, que Zeca Afonso tinha dedicado à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, gravara em 1971 em Paris e estava proibida, e ‘E Depois do Adeus’, letra de José Niza e música de José Calvário, cantada por Paulo de Carvalho e que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção 1974, terminando em último lugar com apenas três pontos.
Com a transmissão de ‘E Depois do Adeus’ pelos Emissores Associados de Lisboa, às 22h55 do dia 24 de abril de 1974, foi dada a ordem para as tropas se prepararem e estarem a postos. ‘Grândola, Vila Morena’, transmitida à 00h25 do dia 25 de abril de 1974 pela Rádio Renascença foi a senha para o início das operações e transformou-se em símbolo da democracia em Portugal.
Tive oportunidade de conhecer Zeca Afonso em outubro de 1973, dias antes de vir para New York. Foi num café de Setúbal, apresentado pelo meu primo Vitor Mendes, colega dele nas lides académicas. Acabara de passar dois meses preso no forte de Caxias, já tinha problemas de saúde e estava longe de pensar que viria a tornar-se menestrel de revoluções, mas riu-se quando lhe contei que no Rádio Clube do Uige, em Angola, onde eu tinha trabalhado, transmitíamos Vampiros, Menino do Bairro Negro e outras das suas músicas de que a ditadura não gostava.
Digamos que a censura em Angola era mais condescendente que no Puto, que era o nome que os angolanos davam a Portugal. E estou a lembrar-me de Jorge Amado, o escritor brasileiro que era um maldito para o Estado Novo, estava impedido de entrar em Portugal e toda a sua obra proibida, mas em Angola tinha os seus livros à venda nas livrarias de Luanda.
Voltando ao 25 de Abril, a razão da escolha de ‘E Depois do Adeus’ é clara: não tendo conteúdo político e sendo uma música em voga na altura, não levantaria suspeitas, podendo a revolução ser cancelada se os líderes concluíssem que não havia condições efetivas para a sua realização.
A escolha das canções foi de Otelo Saraiva de Carvalho, comandante operacional do golpe e tive ocasião de lhe perguntar a razão da escolha de ‘Grândola, Vila Morena’ numa entrevista para o Portuguese Channel, quando veio aos EUA em 2013 a convite da UMass Dartmouth.
“Nenhuma razão em especial, podia ser o ‘Venham mais cinco’ ou ‘Traz outro amigo também’. Tinha é que ser uma canção do Zeca”, disse Otelo, adiantando que a transmissão de uma música proibida na emissora católica daria aos revoltosos a certeza de que a revolução era mesmo para arrancar.
Já vos disse que no dia 25 de abril de 1974 eu estava no Portuguese Times, que se tinha mudado recentemente de Newark, NJ, para New Bedford, e onde a notícia da revolução chegou de maneira prosaica, através de um telefonema atendido pela Donzília, que fazia a composição. Era alguém, que não se identificou, dando conta de que a tropa estava na rua em Lisboa. Já tenho pensado que talvez tenha sido algum radioamador local informado por colegas de Portugal.
O 25 de Abril foi realmente uma revolução diferente e com um único episódio sangrento que por sinal atingiu uma família portuguesa nos EUA: vários agentes da Pide, que passara a chamar-se DGS, tinham-se entrincheirado na sua sede na Rua António Maria Cardoso, em Lisboa, e abriram fogo sobre os populares que se manifestavam na rua fazendo quatro mortos. Foram os únicos mortos na revolução e um deles, João Guilherme Arruda, 20 anos, natural da ilha de São Miguel, aluno da Faculdade de Letras de Lisboa, tinha a mãe e os irmãos em Fall River, onde a sua morte continua sendo chorada.
Quando recomeçaram os voos da TAP para Portugal, António Alberto Costa, diretor do Portuguese Times, abalou para Lisboa e levou o António Cordeiro, que era fotógrafo do jornal e operador de câmara do programa televisivo (Passaporte para Portugal) que Costa mantinha na WLNE-TV (canal 6) de Providence. Conseguiu apenas uma entrevista com Jorge Correia Jesuino, ministro da Comunicação Social, mas no regresso aos EUA, durante o voo, roubaram as câmaras do Cordeiro.
Mas o 25 de Abril não trouxe só problemas para o António Cordeiro, foi também o começo dos problemas do Mendes sem cartão verde e impossibilitado de voltar a Angola. O Costa resolveu despedir-me por me achar demasiado esquerdista. É certo que eu já usava barba, mas era mais barbudo que político.
Contudo, antes de mim, também já despedira um vendedor de publicidade, o Raimundo Canto e Castro, que decidiu lançar o Jornal de Fall River e convidou-me a aderir ao projeto.
Em meados de 1975, mudei para Fall River, desta vez com Castro a prometer conseguir-me cartão verde e dar-me 20 por cento das ações do jornal e o título de editor. Era eu efetivamente quem fazia as notícias, mas o meu nome não figurava sequer no jornal.
Por sinal, fiz nessa altura a primeira entrevista de um jornal português a Frank Carlucci, que já tinha acabado de ser nomeado embaixador dos EUA em Lisboa, mas ainda se mantinha em Washington. Carlucci falava português com sotaque brasileiro.
Ainda em 1975, como o ordenado no jornal não fosse famoso, aceitei o convite de José João da Encarnação, que conhecera nos tempos do Rádio Clube do Uige e acabara de trocar Luanda por New Bedford, para um part-time dominical escrevendo as notícias na rádio WJFD, de New Bedford, propriedade do advogado e político Edmund Dinis. Ganhava 50 dólares e matava o bichinho da rádio.
Mas foi nessa altura que, levada pelas euforias democráticas em Portugal, Natércia da Conceição, a grande fadista que era também locutora da WJFD, começou a liderar um movimento para criação do sindicato do pessoal da rádio portuguesa de New Bedford.
Edmund Dinis ficou pior que estragado e despediu a Natércia, que continuou com os seus fadinhos e passou a tratar de velhinhos e a vestir bata branca. Dizia, com piada, que era a Imaculada Conceição.
Entrevistei a Natércia para o Jornal de Fall River e dias depois foi a vez de entrevistar o madeirense Virgílio Gonçalves, que o Dinis resolveu também despedir por ter aderido ao sindicato.
O último despedido da WJFD parece ter sido José João, que abalaria para a Califórnia, chefiando a produção da KLBS, a rádio portuguesa de Los Banos e que também entrevistei.
Acabei sendo o mais lixado com o sindicato do pessoal da WJFD, embora a minha intervenção no processo tenha sido apenas entrevistar os despedidos no Jornal de Fall River. Mas sabedor de que eu estava ilegal, Edmund Dinis resolveu denunciar-me aos Serviços de Imigração.
Mas quando o agente entrou no Jornal de Fall River, que era então na Columbia Street, pirei-me a tempo e fui enfiar-me no Chaves Market, onde passei o resto do dia a deitar contas à vida sentado num saco de batatas.
Dois dias depois, mudei-me para Bristol, ao serviço do Azorean Times, de António Matos. Tratava-se de um semanário surgido na euforia nacionalista açoriana resultante do 25 de Abril e que prestou bons serviços, a começar pela minha legalização, que ainda demorou cinco anos, mas consegui finalmente em 1980.
Tudo isso já lá vai, mas o percalço da WJFD permite-me concluir as democracias do 25 de Abril não chegaram à comunidade portuguesa nos EUA. Não fui denunciado por nenhum americano xenófobo, mas por outro português que não gostava daquilo que eu escrevia.
Já agora, acrescento que ter estado ilegal não é nada de que me orgulhe, mas também não me envergonha e até fui um felizardo. Como li algures, os imigrantes ilegais nos EUA são como os espermatozóides: entram milhões, mas só um é bem sucedido.
Angola é nossa
Voltando à rádio, em 1961 eu fazia na Rádio Voz de Lisboa, das 2h00 às 7h00 de domingo, um programa madrugador pomposamente intitulado Festival da Noite e um dia, já depois do início da guerra colonial em Angola, o dono da estação, Fernando Laranjeira, fez-me chegar um disco com incumbência de transmitir várias vezes durante a emissão.
Era o triunfalista hino ‘Angola é Nossa’, letra de Santos Braga e música de Duarte F. Pestana numa excelente interpretação do coro e orquestra da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) e que ficou no ouvido dos portugueses.
Mas o meu envolvimento com Angola não se limitaria à transmissão de ‘Angola é Nossa’. Embora já tivesse cumprido o serviço militar, fui mobilizado para Angola pelo Batalhão de Caçadores 317, companhia 319. Viajei no paquete Vera Cruz ouvindo a toda a hora na instalação sonora do navio o ‘Angola é Nossa’ para criar brios patrióticos.
Desembarcámos em Luanda em novembro de 1961, desfilámos ao som do ‘Angola é Nossa’ e, depois de uma temporada no Ucua, em fevereiro de 1962 fomos parar ao Quitexe, distante 42 quilómetros da cidade do Uige (então chamada Carmona), que tinha uma estação de rádio (Rádio Clube do Uige), onde comecei a colaborar em meados de 1962 e onde ficaria a trabalhar concluída a comissão em 1964.
No Rádio Clube do Uige reencontrei ‘Angola é Nossa’, que fechava e abria as emissões para que ninguém duvidasse de que Angola fazia parte de Portugal.
Mas o melhor estava para vir. Os povos angolanos do Uige que em 1961, quando do começo do terrorismo, tinham fugido temendo as perseguições dos brancos e talvez dos turras, começaram a apresentar-se em 1963.
Foi nessa altura que o administrador do concelho do Uige me chamou para fazer a reportagem da apresentação desses povos e à hora combinada lá estava eu de microfone na mão para gravar as impressões dos apresentados, recém chegados que viajavam em camiões e entravam em Carmona a cantar. E sabem o que cantavam? ‘Angola é Nossa’ que tinham aprendido ouvindo o Rádio Clube do Uige nos seus rádios portáteis.
A reportagem foi uma galhofa para alguns brancos, mas os pretinhos não estavam enganados. Angola era mesmo deles.